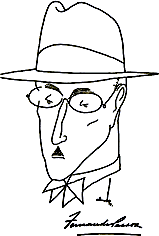"Lisboa, 13 de Janeiro de 1935
Meu prezado Camarada:
Muito agradeço a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente. Antes de, propriamente, começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever neste papel de cópia. Acabou-se-me o decente, é domingo, e não posso arranjar outro. Mas mais vale, creio, o mau papel que o adiamento.
Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria «outras razões» em qualquer cousa que escrevesse, discordando, a meu respeito. Sou um dos poucos poetas portugueses que não decretou a sua própria infalibilidade, nem toma qualquer crítica., que se lhe faça, como um acto de lesa-divindade. Além disso, quaisquer que sejam os meus defeitos mentais, é nula em mim a tendência para a mania da perseguição. À parte isso, conheço já suficientemente a sua independência mental, que, se me é permitido dizê-lo, muito aprovo e louvo. Nunca me propus ser Mestre ou Chefe-Mestre, porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque nem sei estrelar ovos. Não se preocupe, pois, em qualquer ocasião, com o que tenha que dizer a meu respeito. Não procuro caves nos andares nobres.
Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz com um livro da natureza de «Mensagem». Sou, de facto, um nacionalista místico, um sebastianista racional. Mas sou, à parte isso, e até em contradição com isso, muitas outras cousas. E essas cousas pela mesma natureza do livro, a «Mensagem» não as inclui.
Comecei por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi o primeiro livro que consegui, não sei porquê, ter organizado e pronto. Como estava pronto incitaram-me a que o publicasse: acedi. Nem o fiz, devo dizer, com os olhos postos no prémio possível do Secretariado, embora nisso não houvesse pecado intelectual de maior. O meu livro estava pronto em Setembro, e eu julgava, até, que não poderia concorrer ao prémio, pois ignorava que o prazo para entrega dos livros, que primitivamente fora até fim de Julho, fora alargado até ao fim de Outubro. Como, porém, em fim de Outubro já havia exemplares prontos da «Mensagem», fiz entrega dos que o Secretariado exigia. O livro estava exactamente nas condições (nacionalismo) de concorrer. Concorri.
Quando às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras minhas, nunca um livro do género de «Mensagem» figurava em número um. Hesitava entre se deveria começar por um livro de versos grande – um livro de umas 350 páginas –, englobando as várias sub-personalidades de Fernando Pessoa ele mesmo, ou se deveria abrir com uma novela policiária, que ainda não consegui completar.
Concordo consigo, disse, em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz, com a publicação de «Mensagem». Mas concordo com os factos que foi a melhor estreia que eu poderia fazer. Precisamente porque essa faceta – em certo modo secundária – da minha personalidade não tinha nunca sido suficientemente manifestada nas minhas colaborações em revistas (excepto no caso do Mar Português, parte deste mesmo livro) – precisamente por isso convinha que ela aparecesse, e que aparecesse agora. Coincidiu, sem que eu o planeasse ou o premeditasse (sou incapaz de premeditação prática), com um dos momentos críticos (no sentido original da palavra) da remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso e se completou por conversa, fora exactamente talhado, com Esquadria e Compasso, pelo Grande Arquitecto.
Referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa só. Não penso nada do Caeiro, do Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no sentido de publicar, excepto quando (ver mais acima) me for dado o Prémio Nobel. E contudo – penso-o com tristeza – pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que lhe é própria, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida. Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes têm que ser, na prática da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa., impuro e simples!
Creio que respondi à sua primeira pergunta.
Se fui omisso, diga em quê. Se puder responder, responderei. Mais planos não tenho, por enquanto. E, sabendo eu o que são e em que dão os meus planos, é caso para dizer, Graças a Deus!
Passo agora a responder à sua pergunta sobre a génese dos meus heterónimos. Vou ver se consigo responder-lhe completamente.
Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou, mais propriamente, um histero-neurasténico. Tendo para esta segunda hipótese, porque há em mim fenómenos de abulia que a histeria, propriamente dita, não enquadra no registo dos seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes fenómenos – felizmente para mim e para os outros – mentalizaram-se em mim; quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contacto com outros; fazem explosão para dentro e vivo-os eu a sós comigo. Se eu fosse mulher – na mulher os fenómenos histéricos rompem em ataques e cousas parecidas – cada poema de Álvaro de Campos (o mais histericamente histérico de mim) seria um alarme para a vizinhança. Mas sou homem – e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais; assim tudo acaba em silêncio e poesia...Isto explica, tant bien que mal, a origem orgânica do meu heteronimismo. Vou agora fazer-lhe a história directa dos meus heterónimos. Começo por aqueles que morreram, e de alguns dos quais já me não lembro – os que jazem perdidos no passado remoto da minha infância quase esquecida.
Desde criança tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. (Não sei, bem entendido, se realmente não existiram, ou se sou eu que não existo. Nestas cousas, como em todas, não devemos ser dogmáticos.) Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo eu, me lembro de precisar mentalmente, em figura, movimentos, carácter e história, várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas como as cousas daquilo a que chamamos, porventura abusivamente, a vida real. Esta tendência, que me vem desde que me lembro de ser um eu, tem-me acompanhado sempre, mudando um pouco o tipo de música com que me encanta, mas não alterando nunca a sua maneira de encantar.
Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou, antes, o meu primeiro conhecido inexistente – um certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade. Lembro-me, com menos nitidez, de uma outra figura, cujo nome já me não ocorre mas que o tinha estrangeiro também, que era, não sei em quê, um rival do Chevalier de Pas... Cousas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida – ou talvez. Mas a tal ponto as vivi que as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é mister um esforço para me fazer saber que não foram realidades.
Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, sucedida já em maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, por um motivo ou outro, a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura – cara, estatura, traje e gesto – imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e propaguei, vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta anos de distância, oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto, vejo... E tenho saudades deles.(Em eu começando a falar – e escrever à máquina é para mim falar –, custa-me a encontrar o travão. Basta de maçada para si, Casais Monteiro! Vou entrar na génese dos meus heterónimos literários, que é, afinal, o que V. quer saber. Em todo o caso, o que vai dito acima dá-lhe a história da mãe que os deu à luz.)
Aí por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à ideia escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas cousas em verso irregular (não no estilo Álvaro de Campos, mas num estilo de meia regularidade), e abandonei o caso. Esboçara-se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. (Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis.)
Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro – de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira – foi em 8 de Março de 1914 – acerquei-me de uma cómoda alta, e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente... Foi o regresso de Fernando Pessoa-Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caeiro.
Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir – instintiva e subconscientemente – uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jacto, e à máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos – a Ode com esse nome e o homem com o nome que tem.
Criei, então, uma coterie inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. Graduei as influências, conheci as amizades, ouvi, dentro de mim, as discussões e as divergências de critérios, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o menos que ali houve. Parece que tudo se passou independentemente de mim. E parece que assim ainda se passa. Se algum dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes, e como eu não sou nada na matéria.
Quando foi da publicação de Orpheu, foi preciso, à última hora, arranjar qualquer cousa para completar o número de páginas. Sugeri então ao Sá-Carneiro que eu fizesse um poema «antigo» do Álvaro de Campos – um poema de como o Álvaro de Campos seria antes de ter conhecido Caeiro e ter caído sob a sua influência. E assim fiz o Opiário, em que tentei dar todas as tendências latentes do Álvaro de Campos, conforme haviam de ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer traço de contacto com o seu mestre Caeiro. Foi dos poemas que tenho escrito, o que me deu mais que fazer, pelo duplo poder de despersonalização que tive que desenvolver. Mas, enfim, creio que não saiu mau, e que dá o Álvaro em botão...Creio que lhe expliquei a origem dos meus heterónimos. Se há porém qualquer ponto em que precisa de um esclarecimento mais lúcido – estou escrevendo depressa, e quando escrevo depressa não sou muito lúcido –, diga, que de bom grado lho darei. E, é verdade, um complemento verdadeiro e histérico: ao escrever certos passos das Notas para recordação do meu Mestre Caeiro, do Álvaro de Campos, tenho chorado lágrimas verdadeiras. É para que saiba com quem está lidando, meu caro Casais Monteiro!
Mais uns apontamentos nesta matéria... Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887 (não me lembro do dia e mês, mas tenho-os algures), no Porto, é médico e está presentemente no Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação quase alguma. Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro de 1890 (às 1,30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está certo). Este, como sabe, é engenheiro naval (por Glasgow), mas agora está aqui em Lisboa em inactividade. Caeiro era de estatura média, e, embora realmente frágil (morreu tuberculoso), não parecia tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, mais baixo, mais forte, mas seco. Álvaro de Campos é alto (1,75 de altura, mais 2 cm do que eu), magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos – o Caeiro louro sem cor, olhos azuis; Reis de um vago moreno mate; Campos entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que quase nenhuma – só instrução primária; morreram-lhe cedo o pai e a mãe, e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó. Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É, um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por educação própria. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu; depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente de onde resultou o Opiário. Ensinou-lhe latim um tio beirão que era padre.Como escrevo em nome desses três?... Caeiro, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular o que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstracta, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê. (O meu semi-heterónimo Bernardo Soares, que aliás em muitas cousas se parece com Álvaro de Campos, aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição; aquela prosa é um constante devaneio. É um semi-heterónimo porque, não sendo a personalidade a minha, é, não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afectividade. A prosa, salvo o que o raciocínio dá de ténue à minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual; ao passo que Caeiro escrevia mal o português, Campos razoavelmente mas com lapsos como dizer «eu próprio» em vez de «eu mesmo», etc., Reis melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado. O difícil para mim é escrever a prosa de Reis – ainda inédita – ou de Campos. A simulação é mais fácil, até porque é mais espontânea, em verso.)
Nesta altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte o fez cair, por leitura, em meio de um manicómio. Em todo o caso, o pior de tudo isto é a incoerência com que o tenho escrito. Repito, porém: escrevo como se estivesse falando consigo, para que possa escrever imediatamente. Não sendo assim, passariam meses sem eu conseguir escrever.(*)
Falta responder à sua pergunta quanto ao ocultismo. Pergunta-me se creio no ocultismo. Feita assim, a pergunta não é bem clara; compreendo porém a intenção e a ela respondo. Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-se até se chegar a um Ente Supremo, que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros Entes, igualmente Supremos, que hajam criado outros universos, e que esses universos coexistam com o nosso, interpenetradamente ou não. Por estas razões, e ainda outras, a Ordem Externa do Ocultismo, ou seja, a Maçonaria, evita (excepto a Maçonaria anglo-saxónica) a expressão «Deus», dadas as suas implicações teológicas e populares, e prefere dizer «Grande Arquitecto do Universo», expressão que deixa em branco o problema de se Ele é Criador, ou simples Governador do mundo. Dadas estas escalas de seres, não creio na comunicação directa com Deus, mas, segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. Há três caminhos para o oculto: o caminho mágico (incluindo práticas como as do espiritismo, intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também), caminho esse extremamente perigoso, em todos os sentidos; o caminho místico, que não tem propriamente perigos, mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alquímico, o mais difícil e o mais perfeito de todos, porque envolve uma transmutação da própria personalidade que a prepara, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. Quanto a «iniciação» ou não, posso dizer-lhe só isto, que não sei se responde à sua pergunta: não pertenço a Ordem Iniciática nenhuma. A citação, epígrafe ao meu poema Eros e Psique, de um trecho (traduzido, pois o Ritual é em latim) do Ritual do Terceiro Grau da Ordem Templária de Portugal, indica simplesmente – o que é facto – que me foi permitido folhear os Rituais dos três primeiros graus dessa Ordem, extinta, ou em dormência desde cerca de 1888. Se não estivesse em dormência, eu não citaria o trecho do Ritual, pois se não devem citar (indicando a origem) trechos de Rituais que estão em trabalho.(**)
Creio assim, meu querido camarada, ter respondido, ainda com certas incoerências, às suas perguntas. Se há outras que deseja fazer, não hesite em fazê-las. Responderei conforme puder e o melhor que puder. O que poderá suceder, e isso me desculpará desde já, é não responder tão depressa.
Abraça-o o camarada que muito o estima e admira.
Fernando Pessoa
P. S. (!!!)
14-1-1935
Além da cópia que normalmente tiro para mim, quando escrevo à máquina, de qualquer carta que envolve explicações da ordem das que esta contém, tirei uma cópia suplementar, tanto para o caso de esta carta se extraviar, como para o de, possivelmente, ser-lhe precisa para qualquer outro fim. Essa cópia está sempre às suas ordens.
Outra cousa. Pode ser que, para qualquer estudo seu, ou outro fim análogo, o Casais Monteiro precise, no futuro, de citar qualquer passo desta carta. Fica desde já autorizado a fazê-lo, mas com uma reserva, e peço-lhe licença para lha acentuar. O parágrafo sobre ocultismo, na página 7 da minha carta, não pode ser reproduzido em letra impressa. Desejando responder o mais claramente possível à sua pergunta, saí propositadamente um pouco fora dos limites que são naturais nesta matéria.
Trata-se de uma carta particular, e por isso não hesitei em fazê-lo. Nada obsta a que leia esse parágrafo a quem quiser, desde que essa outra pessoa obedeça também ao critério de não reproduzir em letra impressa o que nesse parágrafo vai escrito. Creio que posso contar consigo para tal fim negativo.
Continuo em dívida para consigo da carta ultradevida sobre os seus últimos livros. Mantenho o que creio que lhe disse na minha carta anterior: quando agora (creio que será só em Fevereiro) passar alguns dias no Estoril, porei essa correspondência em ordem, pois estou em dívida, nessa matéria, não só para consigo, mas também com várias outras pessoas.
Ocorre-me perguntar de novo uma cousa que já lhe perguntei e a que me não respondeu: recebeu os meus folhetos de versos em inglês, que há tempos lhe enviei?
«Para meu governo», como se diz em linguagem comercial, pedia-lhe que me indicasse o mais depressa possível que recebeu esta carta. Obrigado.
Fernando Pessoa
(*): Esta carta, tal como foi inserida por Adolfo Casais Monteiro na revista Presença, n.º 9, Junho de 1937, e mais tarde por Jorge de Sena nas Páginas de Doutrina Estética, obr. cit., terminava aqui, em obediência ao Post Scriptum de Fernando Pessoa, que pedia a não publicação do trecho subsequente devido aos motivos que apontava e que se reproduzem. Contudo, com autorização de Casais Monteiro, João Gaspar Simões incluiu o referido trecho ocultista na sua Vida e Obra de Fernando Pessoa, obr. cit., pp. 546 e 547 (2.ª ed.). Transcreve-se o referido trecho na íntegra, bem como o P. S., que só figurava em Apêndice da antologia de Sena.
(**): Termina aqui o texto em questão, só conhecido depois do livro de J. Gaspar Simões.
Termina aqui el texto en cuestión, sólo conocido después del libro de J. Gaspar" Simões.Fonte: Fernando Pessoa, Obra Poética e em Prosa, ed. António Quadros. Porto, Lello & Irmão, 1986."